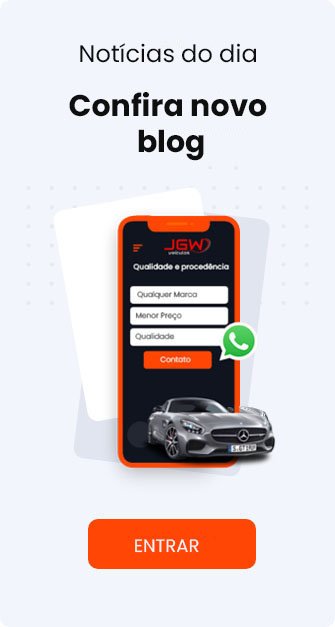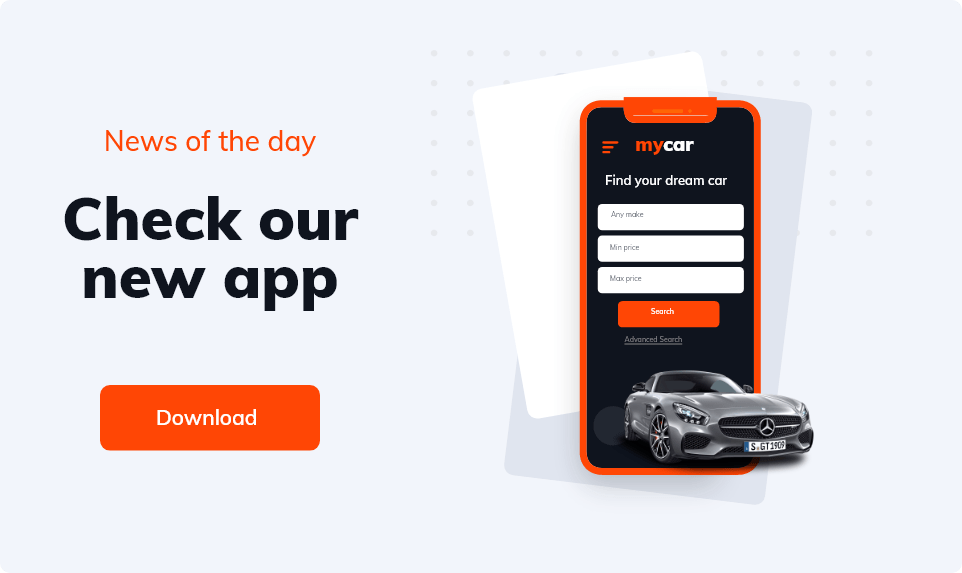Gavião | Recordações de Carlos Rocha, belverense ferido e prisioneiro em Goa – mediotejo.net
Médio Tejo
Uma região, um jornal
Foi ele o homem que recebeu, descodificou “em cifra” e transmitiu a última mensagem de Salazar dirigida ao NPR “Afonso de Albuquerque”, na frente de batalha em Goa, a 18 de dezembro de 1961. Dizia o seguinte: “Comandante, preparar o navio, depois de preparado fazer-se ao mar, enfrentar a esquadra do inimigo e, quando não puder, abrir as válvulas de fundo”. Ou seja, era uma ordem “para nos afogar a todos”, recorda.
Carlos Alberto Matos Rocha, hoje com 88 anos, recebeu-nos na sua casa em Belver, no concelho de Gavião, e rapidamente trouxe diplomas, condecorações, cartas e fotografias desses tempos, que espalhou sobre a mesa. Ia falar de guerra, mas a paz via-se da sua janela: o arvoredo da quinta onde tem vários animais, de cães a pavões; uma imensa e serena piscina; e uma casa de turismo rural, transformada para esse fim depois de ter cumprido a função de curral de vacas.
O belverense pode hoje contar-nos a sua história porque a ordem que transmitiu de Salazar não ditou o seu destino. Foi um dos homens feridos em combate e levado como prisioneiro para um campo de concentração indiano, onde esteve durante quatro meses e meio. Ao voltar a Portugal, o sofrimento não acabou – foi tratado como “traidor à pátria”. O país só viria a reconhecer a anexação de Goa, Damão e Diu depois do 25 de Abril. Carlos Rocha acabou por abandonar a Marinha e, no dia seguinte, já estava a trabalhar na Junta de Energia Nuclear. A sua veia empreendedora acabou por transformá-lo num empresário naval. Mas já lá vamos.
Ainda em 1961, a 29 de dezembro, o Secretariado Geral da Defesa Nacional fez um comunicado à imprensa dando conta, numa lista parcial, dos militares da Marinha prisioneiros na Índia. Esses homens foram distribuídos por vários campos de concentração – Alparqueiros, Pondá, Pondá II e Aguada –, onde viveram tempos complicados. Carlos Rocha recorda ao nosso jornal que, no campo de concentração de Pondá, onde esteve refém, teve por cama apenas quatro tijolos e uma porta de casa-de-banho que arrancou com a força de um camarada.
Segundo a Marinha Portuguesa, a distribuição dos marinheiros foi feita de acordo com as patentes, juntamente com os militares do Exército. Carlos recorda o sofrimento desses tempos em que o governo português não admitia qualquer rendição. Em mensagem enviada ao governador Vassalo e Silva, dias antes da ofensiva, Salazar dirigiu-lhe as seguintes palavras: “Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos”.
Sobre Goa, a história que nos conta é longa e, à semelhança de um jogo de encaixe, vai colocando peças, à medida que as memórias se transformam em palavras.
António de Oliveira Salazar “queria mortos ou heróis”, lembra. “Não queria que regressássemos a Lisboa. Se o comandante Aragão não tivesse sido gravemente ferido, tínhamos morrido todos, porque a ordem para morrer era para cumprir”, afirma. Talvez por esse motivo, diz, António da Cunha Aragão “deitou borda fora, ao mar, a fotografia de Salazar, por ser indigno de ir ao fundo connosco”.
A Índia tinha-se tornado independente de Inglaterra em 1947. A invasão militar de Goa foi um episódio que começou com um problema diplomático e que se foi ampliando durante 14 anos. Salazar nunca cedeu, falharam as pressões por parte da Índia e as tentativas de negociação propostas pela Organização das Nações Unidas, terminando da forma que a História registou nos livros e que quem viveu na pele descreve como “dramática”.
Certo é que, a 18 de dezembro de 1961, os indianos entraram no território designado, naquela época, de província ultramarina. Com ordens para morrerem a combater, os cerca de 3.500 militares portugueses pouco ou nada podiam fazer contra o inimigo com uma força militar com cerca de 50 mil homens entre exército, aviação e marinha.
Portanto, a resposta ao pedido da União Indiana de rendição “foi fogo”, recorda Carlos Rocha. Portugal “foi o primeiro a abrir as hostilidades”. Mas com o comandante ferido com gravidade – o NRP Afonso de Albuquerque já havia sofrido os primeiros impactos, nomeadamente na torre diretora tendo causado a morte a um grumete telegrafista de nome Rosário da Piedade – assumiu o comando o imediato Pinto da Cruz que encalhou a fragata no Mormugão.
“Estávamos muito mal armados. Não tínhamos defesa anti-aérea, os praças não tinham armas automáticas. Na véspera começamos a desconfiar porque o tenente Pinta Barros, o meu chefe, mandou queimar a gasolina os documentos confidenciais e secretos. A invasão estava iminente. À meia noite começaram a sentir-se estrondos. Tínhamos as praias e pontes minadas para dinamitar e atrasar os indianos”.
Mas os portugueses possuíam uma única fragata, e os indianos apresentavam a combate três fragatas, um cruzador e um porta-aviões, tudo de fabrico inglês. A tática do inimigo passava por cortar as linhas de comunicação, provocando desorientação nos militares portugueses.
“Bombardearam os lugares estratégicos: o aeroporto, a emissora de Goa e as comunicações da Marinha. No palácio do governador, onde estava, a nove quilómetros, o chão tremia. Pensámos todos que íamos morrer. Era o último dia. Não tínhamos hipóteses de fugir, para enfrentar o inimigo sabíamos que morríamos” devido à inferioridade numérica dos portugueses, conta.
Depois de registar cerca de 30 mortos e meia centena de feridos, o general Manuel Vassalo e Silva, o último governador do Estado Português da Índia, rendeu-se. Bastaram36 horas para que as forças indianas tomassem Goa, Damão e Diu.
Carlos Alberto Matos Rocha nasceu a 19 de agosto de 1934, em Torre Cimeira, Belver. Órfão de pai aos três anos, a mãe, uma jovem de 20, voltou a casar e a família então renovada foi residir no Entroncamento, “na altura uma freguesia da Barquinha”, e hoje uma cidade. “Quando para lá fui não tinha água canalizada em casa, nem eletricidade… lembro-me de umas selhas onde as senhoras, incluindo a minha mãe, lavavam a roupa.”
Após completar a quarta classe, e sendo aluno aplicado, realizou o exame de admissão ao liceu no Sá da Bandeira, em Santarém. Optou por um curso industrial de eletricidade e eletrónica, de cinco anos, e para fazer exame deslocou-se à capital, à Escola Secundária de Fonseca Benevides. Teria uns 16 anos quando, no Entroncamento, viu pela primeira vez uns panfletos com publicidade da Marinha e como sempre quisera conhecer outros países, abrir horizontes e descobrir o mundo, o mar entrou-lhe decisão adentro. Quando completou 17 anos, a idade mínima para entrar como voluntário, viajou de comboio até Vila Franca de Xira para o respetivo exame de admissão e uma necessária inspeção médica.
“Fui aprovado. Candidataram-se 120 e ficaram uns 20” rapazes para durante uns três anos letivos estudarem na Marinha. Diz, no entanto, desconhecer o que era a Marinha, “pensava que chegávamos, metiam-nos num barco e cada um tinha as suas funções”. Ali aprendeu português, inglês, matemática e deveres militares. No fim do curso “éramos uns sete ou oito. Fui muito novo para a Marinha, tanto que à noite ainda tinha direito a café com leite”, recorda.
Naquele tempo, com Portugal membro fundador da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a eletrónica estava em evolução, eram poucos os técnicos de reparação de radares e sonares por isso, continuando aplicado, revelando-se o segundo melhor aluno do curso, a Marinha enviou Carlos Alberto, juntamente com um colega, para os Estados Unidos. Foi precisamente pela NATO que os dois portugueses e 17 oficiais e sargentos norte-americanos estiveram mais de um ano a aprofundar os conhecimentos, numa base militar, na região dos Grandes Lagos, perto de Chicago.
No final do curso, só um oficial americano ficou à frente dos dois portugueses, com o colega em segundo e Carlos em terceiro. Viajou ainda para Inglaterra e depois para a Alemanha aprofundando os conhecimentos em comunicações, também em trabalho numa fábrica de equipamentos que a Marinha havia adquirido.
No regresso, vinha convicto em prosseguir os estudos para ser engenheiro eletrotécnico e sobre essa ambição falou com um capitão de Mar e Guerra, o comandante Aguiar, responsável pelo destacamento dos marinheiros. Pediu-lhe que o colocasse em Algés, na Estação Rádio Naval – em Algés estavam os recetores e em Monsanto os emissores –, ou seja em terra, com o objetivo frequentar a faculdade.
O jovem terminou o curso na Marinha Portuguesa, com 20 anos, tendo sido promovido a sargento, mas afinal não foi para a faculdade de engenharia como ambicionava porque o comando superior não permitiu. “Queria ficar em terra depois da despesa que deu ao Estado? Não, agora tem de navegar!”, foi a resposta de Aguiar. Embarcou-o durante cinco anos, em manobras da NATO, primeiro no contratorpedeiro Destroyer e depois na fragata Diogo Cão.
Uma vida a navegar, com ou sem vagas monstras, com muitos enjoos “era muito duro”, conclui embora reconheça as “muitas experiências enriquecedoras”. A Marinha permitiu que Carlos conhecesse “muitos países, muitas pessoas, várias religiões, adquiri muitos conhecimentos. Adquiri mundo”, afirma explicando ter sido o técnico responsável “por tudo o que era eletrónico. Aquando das manobras os equipamentos estavam todos operacionais”, assegura.
Até que, cansado de navegar, pediu novamente para ficar em terra ou em alternativa num comando naval em Lourenço Marques (atual Maputo, em Moçambique) ou Luanda (Angola), se permitia que fosse em comissões no ultramar porque “era aí que se ganhava dinheiro. Os meus colegas quando chegavam a Portugal compravam logo uma casa e eu nada”, critica. Mas essa comissão foi-lhe negada e justificada pela sua juventude. Manteve Carlos na flotilha das patrulhas na Base, responsável por oito navios.
Quando em 1961 rebenta a guerra colonial, Carlos Rocha foi imediatamente convocado, uma vez que no seu currículo militar não constava qualquer comissão no ultramar. Tal despertou um sentimento de injustiça no jovem. “Fiquei revoltadíssimo! Agora que o país estava em guerra já me era permitido o ultramar”.
Em jeito de “favor”, o comandante Aguiar permitiu-lhe escolher entre o comando naval de Moçambique ou o comando naval de Goa. Recusou escolher, colocando o comandante a decidir novamente o seu destino, validando Goa por ser “pacífico”. Recém casado com Maria do Rosário, uma educadora de infância também natural de Belver, em junho daquele ano, embarca no paquete Timor rumo o canal do Suez. A viagem durou uns 12 dias até Bambolim, onde se situava a Estação de Rádio militar que comunicava com Lisboa e com os navios, e na qual assumiu diligências, e a emissora de rádio e televisão de Goa, a cerca de nove quilómetros da capital, Pangim.
Apesar dos seus 88 anos, Carlos Rocha relata aquele dia, decorrido há mais de seis décadas, como se estivesse a acontecer no momento da nossa entrevista. Lembra que “a certa altura, meia dúzia de dias antes da invasão”, os militares começaram a ver aviões de combate a sobrevoar o território. “Jatos, muito rápidos. O que era estranho porque Portugal não tinha aviação na Índia. Pensava-se que eram portugueses estacionados numa base no Paquistão, em Carachi, mas eram indianos”, explica.
Provavelmente nenhum dos militares dormiu na noite antes da invasão. Pelo menos o belverense passou a noite em claro. E o resto da história é conhecida: a rendição de Portugal chegou após o encalhamento do NRP Afonso de Albuquerque, embora as ordens fossem, como já referiu, “combater, afundar”.
Sendo certo que os indianos “tinham ordens para não matar, fazer o mínimo de sangue possível”, revelando que o primeiro-ministro indiano, Nehru, considerado um pacifista, hesitou em usar a força. Perante os factos, eventualmente concluiu que, com o regime português, não bastava ser diplomata.
“Os indianos viram os marinheiros em terra e começaram a rebentar bombas. Fui ferido numa perna com um estilhaço e ao meu lado morreu um camarada sargento. Não senti nada, estava ferido sem saber”, afirma. Entretanto, o tenente “Pinto Barros ata-me um garrote na perna e o sangue parou”. Carlos seguiu para o hospital no carro da RTP, com o jornalista Urbano Carrasco, em reportagem do ataque.
Após uma operação à perna, o sargento mostrava dificuldades em dormir, a agitação não permitia que adormecesse nem queria injeções que o permitissem. Mas a exaustão revelava-se no rosto e por isso o enfermeiro aplicou-lhe “uma injeção de água destilada. A dor também tem um bocadinho de psíquico”, opina falando noutra pessoa importante com quem se cruzou no hospital em Goa. “Uma irmã da Caridade, de Alcobaça, que em troca de eu reunir os homens para rezar o terço me arranjou um cozido à portuguesa e um pudim flan”, lembra sorrindo.
Mas a noticia que chegara a Portugal dava conta da morte dos militares portugueses. Nessa sequência, a mulher de Carlos, Maria do Rosário, pensou que estava viúva – o casal tinha casado há um ano, a comissão em Goa era de dois anos e a jovem preparava-se para ir ao encontro do marido na Índia.
Quis o destino que o Internúncio Apostólico em Delhi, James Robert Knox, aquando uma visita ao hospital, como representante do Papa João XXIII que o encarregou de visitar aquele território, falasse com Carlos e a 29 de dezembro de 1961 escreveu a Maria do Rosário, a viver com a sogra no Entroncamento. Informou-a que o marido estava vivo e “praticamente restabelecido do ligeiro ferimento que recebera. Está, portanto, de saúde e bem disposto, embora com muitas saudades dos seus”, pode ler-se na carta.
Passado um mês, o marinheiro teve alta hospitalar e, guardado por quatro soldados armados, seguiu para um campo de concentração, a cerca de 20 quilómetros de distância, na serra de Pondá de Pangim ,“só com a roupa do corpo. Foi difícil!”, confessa, principalmente pela falta de condições higiénicas, mínimo conforto e alimentação. “Manteiga não faltava. Lá as vacas são sagradas”, nota.
Carlos confirma ter existido “abertura” da parte da Índia para Portugal ir buscar os prisioneiros, mas a guerra em Angola tinha começado e Salazar queria que os soldados portugueses lutassem até ao último suspiro para defender aqueles territórios.
“Não queria os militares em Portugal”, reforça. “Fomos considerados traidores”. Contudo, certo dia, quase que os prisioneiros morreram em frente a um pelotão de fuzilamento. “A limpeza era feita pelos portugueses e três soldados delinearam um plano de fuga, meteram-se no lixo, mas foram traídos por um furriel, dois fugitivos foram apanhados. O campo foi considerado revoltoso, os indianos temiam que o furriel fosse encontrado morto. Às tantas mandaram fazer filas, pensámos ser para a contagem mas era para fuzilar os prisioneiros. O fuzilamento acabou por ser impedido pelo capelão”, relata.
Abandonada essa ideia, a 21 de dezembro, o ministério indiano dos Negócios Estrangeiros escreve uma nota a Lisboa a informar que não pretende ficar com os soldados reféns, disponibilizando-se “a entregar os militares portugueses sem condições”. Mas o regime responde que “irá buscar os portugueses quando os indianos forem buscar os indianos presos em Moçambique”, explica Carlos contando ter acesso a essa informação através da rádio que ouvia no campo de concentração.
Em janeiro de 1962, Salazar definiu a invasão em Goa como “um dos maiores desastres da nossa história”. No dia 30 desse primeiro mês, o regime aceita a repatriação dos civis portugueses em troca da libertação dos indianos, mas os militares lusos permaneciam nos campos, ignorados pelo governo. A 6 de abril, Nehru comunica que “já não pode manter os portugueses por muito tempo em Goa” e que, se Portugal não fosse buscar os seus soldados, seriam levados para outro local da Índia. O repatriamento foi, então, anunciado via rádio a 13 de abril.
“A União Indiana decidiu que, devido às monções, não podíamos estar sitiados. E deu-nos três alternativas: emigrar para o país que quiséssemos, pedindo asilo político; alistar-se na União Indiana ou seguir para um campo de concentração perto da China. Pensei em ir para a Austrália mas como o governo português recuou perante a iniciativa da Índia, não fui”. No entanto, Carlos não esquece que “a liberdade dos portugueses deveu-se ao governo indiano”.
Dois aviões franceses fizeram a ponte entre Goa e Carachi, no Paquistão, onde recebeu dinheiro e roupa e encontrou uma mesa posta. Eram três os navios para levar os soldados de regresso a Lisboa: Vera Cruz, Pátria e Moçambique. Carlos viajou no Vera Cruz.
Atracaram na gare marítima de Alcântara. Carlos, que regressava ao seu país “com grandes traumas de guerra” tinha esperança de se juntar à família naquele que seria um cais de encontro, mas não foi isso que aconteceu. “Não havia famílias. O regime teve medo da agitação”. A chegada revelou-se “um choque e uma profunda ofensa” pela forma como foram recebidos à chegada a Lisboa, com militares alinhados ao longo do cais, com as suas armas empunhadas e apontadas ao navio. Os militares foram encaminhados para as suas unidades. “Fomos mal recebidos, até por alguns colegas, e pela população, por sermos considerados traidores”, relembra.
Vassalo e Silva foi o último a deixar Goa. Acabou expulso das Forças Armadas e só seria reintegrado após o 25 de Abril, tinha já 75 anos. Dez oficiais foram demitidos, cinco passaram compulsivamente à reforma e nove declarados inativos durante seis meses. Os restantes foram ilibados.
No caso de Carlos Rocha, o militar apresentou-se, uma semana depois do regresso, ao comandante Aguiar, no Ministério da Marinha, onde foi recebido com palavras de lástima, mas o sargento disse-lhe ser “tarde demais” não escondendo a indignação por tudo o que tinha passado devido às decisões do seu comandante. Talvez por isso, foi colocado durante um ano a dar aulas aos oficiais da Marinha Mercante. No final desse ano, o marinheiro foi enviado para Algés onde permaneceu quatro anos, tendo arranjado, paralelamente, um part-time na Companhia Nacional de Navegação.
Catorze anos depois, desejava abandonar a Armada mas nessa época, recorda, devido à guerra colonial, o ministro da Marinha, Fernando Quintanilha e Mendonça Dias, “não deixava ninguém ir embora”.
Verificavam-se, por isso, “muitas deserções” e as portas acabaram abertas a quem tinha avançado com um requerimento solicitando a saída, como foi o caso de Carlos Rocha, um dos primeiros, nessa ocasião, a abandonar a Marinha. Afirma que no dia seguinte já trabalhava na Junta de Energia Nuclear, em Bobadela. Atribuíram-lhe a categoria de engenheiro técnico, tendo ficado a dar aulas aos engenheiros estagiários. Não tardou a receber um telefonema do presidente da Câmara de Sesimbra, “chefe das eletrónicas da Siderurgia Nacional, no Seixal”. Aceitou ir trabalhar para a Siderurgia, conta.
Tempos depois, ainda antes do 25 de Abril, recebeu uma carta para ir trabalhar para a Lisnave. “Uma grande empresa com 9 mil trabalhadores, onde fiquei 25 anos”, observa. Foi nessa empresa naval, onde lidava com os armadores, que certo dia, já depois da revolução dos cravos, recebeu um representante de componentes de eletrónica. Para sua surpresa, era o comandante Aguiar, responsável pelo seu destacamento na Marinha, que tinha sido saneado. Não perdeu a oportunidade de lhe mostrar que o destino prega partidas e de lhe dizer que “estava naquela posição devido” ao próprio.
Com a liberdade e da democracia chegaram as greves e as reivindicações, ações que “chateavam” Carlos por nunca poder cumprir com os prazos com os quais se comprometia junto dos armadores. Nesse momento decidiu abrir a sua própria empresa, na área naval, juntamente com um sócio, um ramo de negócio ligado à eletrónica, eletricidade e instrumentação. Chamou-se ‘Atlantrónica’, com instalações na Gare Marítima de Alcântara.
O empreendedorismo correu-lhe de feição. “Foi fácil! Começamos a ganhar dinheiro devido à minha ligação com os armadores. Também trouxemos os melhores técnicos da Lisnave e criamos uma empresa paralela de venda de equipamentos”.
Durante uma década foi empresário, mas depois de “uma vida ligado ao mar, cansativa, de excessos, apareceu-me uma doença, vendi a empresa e ainda fiquei durante um ano como diretor comercial. Teria uns 60 anos, reformei-me”.
Conta que a empresa, nas mãos dos empresários a quem a vendeu, acabou na falência. E Carlos regressou a Belver, apesar de ainda possuir uma casa em Algés. Por terras alentejanas dedicou-se à política e cumpriu dois mandatos na Junta de Freguesia de Belver, eleito pelo Partido Socialista.
A 10 de maio de 2003 recebeu a Medalha de Reconhecimento do Ministério da Defesa Nacional, numa cerimónia de condecoração dos ex-prisioneiros de guerra portugueses na Índia, Timor, Angola, Moçambique e Guiné, presidida pelo então ministro da Defesa, Paulo Portas. Uma medalha atribuída, entre outras condições, aos militares que, em situações de campanha ou em circunstâncias com ela diretamente relacionadas, tenham estado privados de liberdade.
Dedicou-se, ainda, à causa solidária, com um papel ativo no Centro Social Belverense, tendo sido tesoureiro durante 18 anos. Há dois mandatos que permanece como vogal. Atualmente, a Quinta Madressilva é o seu refúgio, um lugar que partilha em plena harmonia rural com Maria do Rosário.
A sua formação é jurídica mas, por sorte, o jornalismo caiu-lhe no colo há mais de 20 anos e nunca mais o largou. É normal ser do contra, talvez também por isso tenha um caminho feito ao contrário: iniciação no nacional, quem sabe terminar no regional. Começou na rádio TSF, depois passou para o Diário de Notícias, uma década mais tarde apostou na economia de Macau como ponte de Portugal para a China. Após uma vida inteira na capital, regressou em 2015 a Abrantes. Gosta de viver no campo, quer para a filha a qualidade de vida da ruralidade e se for possível dedicar-se a contar histórias.
6 Comentários
Belo artigo. Parabéns. Uma peça de memória que ajuda a compor o puzzle da História.
Sou de Lisboa mas conheço Belver e a Quinta da Madressilva tal como os seus proprietários e já tive oportunidade de ouvir contar ao vivo a História agora relatada que me deixou encantada,pois embora tenha seguido Medicina a minha outra paixão é História.
Ao Carlos e à Rosarinho obrigada por partilharem de forma tão generosa a sua vivência de factos importantes para todos nós.
Excelente artigo. Parabéns à jornalista e ao entrevistado. É uma delícia ouvir este relato, que nos permite perceber melhor o passado. As fotos estão lindas.
Uma surpreendente história de vida, dentro da história do país!
Um relato minucioso que traz à luz episódios vividos que fazem refletir. Dava um filme.
A narrativo vai das origens humildes do jovem marinheiro sonhando conhecer o mundo, ao empenho de estudando e empreendendo vencer.
Entretanto, a vivida tragédia da missão militar na Índia, os dilemas terríveis, o sofrimento, os perigos de morte.
Onde há o sentido da honra, da solidariedade, do infortúnio, do abandono e onde ainda minou a traição de um furriel e floresceu a abnegação de um capelão evitando o fuzilamento.
Por fim, a lição do destino, que fez do causador da nomeação para a Índia um pedinte de favores.
Ainda bem que a história revela um final feliz!Parabéns !
Várias vezes ouvi do Sr. Carlos a história desses dias. Lê-la agora com especial detalhe é um enorme privilégio. Muito obrigado. Belver, o Sr Carlos e a Dona Rosarinho, estão na nossa vida de forma muito especial.
27.08.2023
É de muito louvar o jornal Mediotejo.net e a jornalista dra. Paula Mourato pela ideia de ouvir em entrevista bem conduzida a narrativa histórica de quase toda uma vida de um ilustre belverense, o eng. Carlos Rocha.
A redação é clara e convida o leitor a manter-se na sua leitura, provocando a sua curiosidade e gerando a possibilidade de admirar a vida de um cidadão que realizou com empenho persistente e sabedoria um percurso admirável no qual se evidencia um complexo conjunto de qualidades profissionais e ético-sociais que decerto honram a sua terra e servem também para ensinar as gerações atuais desde os jovens que se iniciam na vida laboral até aos cidadãos a meio da vida ativa.
Iniciada e mantida com um esmero cuidadoso, a Quinta da Madressilva tem oferecido a muitos o sossego de pequenas estadias e o seu regresso em repetidos anos, sempre apoiados e atraídos pela elevada e acolhedora simpatia oferecida pelo inesquecível casal Rocha, decerto tão conhecido e estimado pela população de Belver e nas povoações mais próximas, nomeadamente Gavião, Mação e Abrantes.
Concluindo, considero que este jornal valoriza e deve manter a linha de ilustrar e destacar figuras que honrem as diversas povoações no âmbito da sua cobertura para fundamentar a vinda de mais visitantes, fomentando assim a diversificação de atividades úteis ao desenvolvimento social e económico. Deste modo, estas narrativas objetivas e enaltecedoras também ajudam a consolidar nos entrevistados a consciência de dignidade e satisfação com que viveram ontem e vivem hoje, valorizando a memória das suas terras.
O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *
document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );
Contactos info@mediotejo.net | +351 913 780 965
Quem Somos | Estatuto Editorial | Ficha Técnica
Categorias
- conexaoautomotiva (2.235)
Post recentes
Sobre nós