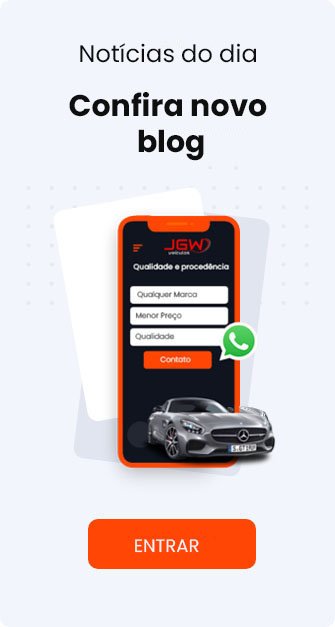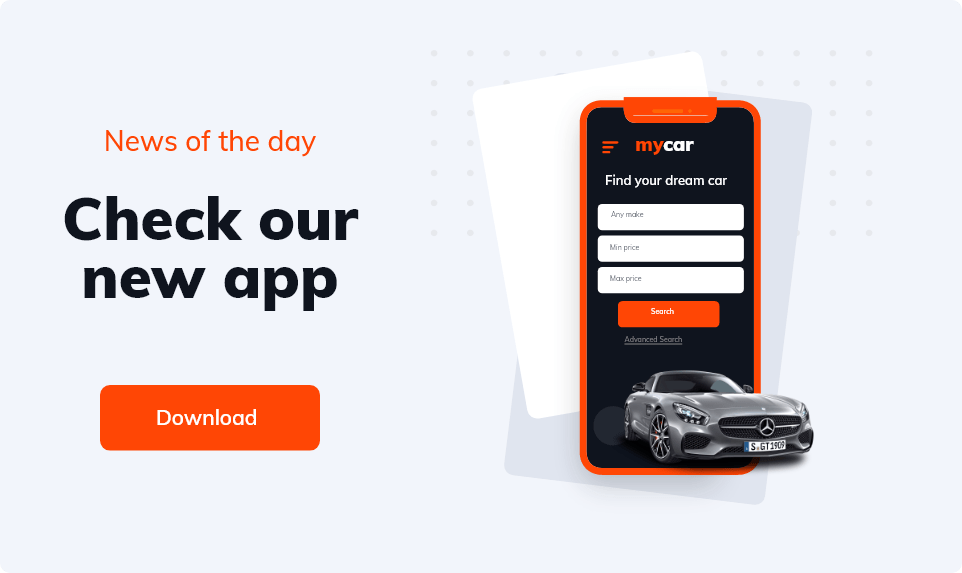"Lisboa ainda não é uma cidade amiga das crianças" – Mensagem de Lisboa
Mensagem de Lisboa
Receba a nossa newsletter com as histórias de Lisboa 🙂
Ao submeter o e-mail concorda com a política de privacidade.
Como é que a Lisboa em que crescemos molda os adultos que seremos? O imaginário de uma cidade atual não é o mesmo de há mais ou menos 30 anos e é já diferente também daquele que tínhamos há um ano. A mutação é constante e quem cresce nela, as crianças, traça a vida em função dessas mutações também. Por isso é que o especialista Frederico Lopes diz que não se pode falar dos desafios da infância sem falar que cidade é a nossa hoje.
Em 2015, um estudo internacional sobre mobilidade infantil dava conta de que Portugal tem dos pais mais protetores. Um ano antes, Portugal estava em 10.º lugar no Ranking internacional de Independência de Mobilidade de Crianças. E os últimos Censos dão conta de que metade das crianças portuguesas vai todos os dias de carro para a escola.
Há muito que Frederico Lopes estuda a relação entre a criança, a mobilidade ativa e o ambiente urbano, sendo ainda cofundador da associação “1,2, 3 Macaquinho do Xinês” que trabalha na promoção e provisão do brincar no espaço público e no espaço escolar. Integra também o consórcio Brincapé, o qual resulta de uma parceria de trabalho entre o 1,2,3 Macaquinho do Xinês e a APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil.
Estes estudos dão-nos algumas pistas sobre como uma criança vive a cidade. Lisboa ainda não é uma cidade amiga das crianças?
Eu não acho que Lisboa seja ainda uma cidade amiga das crianças e até acho que, antes de chegarmos ao conceito das cidades amigas das crianças, temos que começar por criar espaços amigos das crianças.
No primeiro grande estudo sobre a independência de mobilidade das crianças e dos jovens, em 2012, percebemos que a esmagadora maioria das crianças e dos jovens se desloca entre a casa e a escola… de carro. O que pressupõe serem acompanhados por adultos e, naturalmente, levanta questões, nomeadamente de autonomia, independência destas crianças.
O que acontecia ainda na minha geração, quando era criança, quer em contexto rural, quer mais urbano, era que as crianças desde uma idade mais precoce tinham uma organização implícita com outras crianças. Entre os moradores, entre os pais, entre a relação que se tinha com o espaço público, e que possibilitava que efetivamente as crianças fizessem esse transporte, essa deslocação, de forma autónoma, a pé.
Essas deslocações raramente seriam feitas sozinho. A pessoa pelo caminho encontrava sempre outras crianças, outros pontos de referência. Havia uma espécie de rede de acompanhamento mútuo, uma comunidade. E isso refletia-se no que acontecia depois de as crianças terminarem as suas atividades letivas, quando passavam muito tempo com outras crianças a gerirem entre elas o seu tempo na rua.
Mas a cidade também mudou, os nossos bairros mudaram…
Mudou. Considerando as transformações que foram sendo sentidas na sociedade e na forma de organização do trabalho, da família, do lazer e da recriação, especialmente nas cidades, foi o surgir de uma outra variável: o incremento do tráfego automóvel. As cidades crescerem em função disso. E isto é precisamente apontado nos inquéritos, nos questionários, nos estudos, como obstáculo principal para que os pais se sintam seguros, para permitir que as crianças possam deslocar-se com autonomia e usufruir do espaço público.
Muitos dos pais dizem que o trânsito é um dos principais obstáculos, mas são os pais que também transportam as crianças, portanto eles também fazem parte desse obstáculo, do problema. E, ao mesmo tempo, também terão que fazer parte da solução. Por isso é que a discussão do direito das crianças à cidade tem que passar por envolver os adultos. Se os adultos não tiverem uma experiência positiva do fruir do espaço público, tendo como condição essencial o andar, essa disponibilidade, não se sentem seguros para o transmitir às crianças.
Porque é que é tão importante falarmos do papel da cidade na autonomia das crianças?
Eu vou falar daquela importância que é a menos falada, que é dar visibilidade à infância: as brincadeiras, as culturas da infância, a forma como as crianças se movimentam pelos espaços, a forma como elas, na sua relação que têm com o espaço e com as pessoas e com os objetos e com os recursos, vão produzindo lugares. Porque os lugares surgem dessa relação que as crianças estabelecem com eles.
As crianças hoje passam a maioria do tempo na escola, é o lugar delas. Isto levanta outra questão: o tipo de escola que temos, muito virada para as quatro paredes. Fica de fora das rotinas das crianças tudo o que sejam espaços que existem, por exemplo, em trajetos de casa-escola, trajetos da vizinhança, aqueles espaços mais informais, onde, se forem reunidas as condições necessárias, nós vamos ter crianças a movimentarem-se de um lado para o outro e formas de brincar que, se calhar, muitas pessoas mais velhas iriam reconhecer. Aquela ideia de brincar na rua não acontecia só no parque infantil. Mas hoje os carros estão em todo o lado e estacionados de forma abusiva. Temos de começar por aqui.
Disso depende futuros adultos mais autónomos?
O que os estudos nos mostram é que as crianças que nas primeiras idades estão em contacto com contextos mais desafiantes tornam-se mais resilientes, mais capazes de gerirem uma série de situações complexas e de compreender melhor qual é a sua posição e a posição dos outros. E tornam-se também, forçosamente, mais colaborativos, mais solidários com o outro.
Uma cidade que as convida a brincar permite mais condições para estar cá fora, para passear, para conviver. E a convivialidade implica pessoas diferentes, de proveniências diferentes, de idades diferentes, de condições diferentes se juntarem e, pelo usufruto do espaço público, negociarem o uso desse espaço. E é daí que se chega a esta ideia da urbanidade, é um bem comum, que é maior do que a minha pertença individual.
E não nos podemos esquecer que uma zona que é boa para as crianças responde a uma série de critérios que permitem às outras pessoas, outros grupos, também usufruírem daquele espaços, como aqueles que circulam em cadeira de rodas – à partida, se é desenhado para as crianças, também é desenhado para quem tem mobilidade reduzida.
Aprendemos alguma coisa com a pandemia e a forma como nos habituou a relacionar com os nossos bairros?
O que nós sabemos, da literatura internacional, e agora dos estudos feitos durante a pandemia, é que houve um agravamento brutal nas condições de saúde e bem-estar das crianças. Saúde na sua forma holística: a parte do corpo físico e psicológico. E o que sabemos é que, nos últimos 40 anos, decresceram imenso as oportunidades para as crianças usufruírem da cidade e houve um aumento das psicopatologias. E, de facto, estamos com um grave problema de saúde mental no país.
Acredita que há uma relação óbvia entre este problema e a forma como vivemos a infância na cidade?
Sem dúvida. Não devemos pensar o brincar sem pensar na mobilidade das crianças. É curioso pensar: as crianças que vão de bicicleta para a escola ou que vão a pé têm experiências muito diferentes. É bom compará-las. São as duas positivas, mas andar de bicicleta é uma experiência muito mais stressante, porque têm de estar atentos aos limites de velocidade, aos carros. Há uma máxima nórdica que diz que a experiência tem de ser boa e, se não for boa, ficamos automaticamente com uma noção negativa. Por isso é que devia haver um esforço significativo para fruir dos nossos espaços a pé.
Mas eu preciso de ter um espaço que seja convidativo. Aquela ideia de conhecer a vizinhança à volta da escola, conhecer os correios, conhecer a oferta cultural, a oferta recreativa, estar lá. E isso também é uma maneira de dar visibilidade às crianças em horas em que normalmente não as vemos. Porque as paisagens ficam inscritas com a nossa presença. E elas ganham mais voz nas decisões urbanas.
Assinou documentos que nos falavam da divisão de espaços na cidade, como espaços de utopia, espaços de ação, espaços de encontro… Mas estes espaços existem ou fazem parte de um ideal de cidade? Se pensarmos na realidade concreta de Lisboa, onde é que eles estão?
Existem ou poderão existir em consequência de experiências como o SigAPÉ (autocarro humano) ou os comboios de bicicletas. Estas iniciativas fazem com que as crianças se encontrem, os pais se possam encontrar, e tragam essa utopia a espaços que não eram espaços de crianças, em horas que não são horas escolares. E há determinadas zonas que são mais apetecíveis para isso poder acontecer do que outras, claro, que normalmente são mais desafogadas, menos densas, mais verdes.
Há zonas da nossa cidade que por uma questão de organização do território, mas também por uma questão de densidade populacional, serão mais promissoras desse ponto de vista. Como Belém e o Parque das Nações, que são zonas com um potencial mais diversificado do que vemos noutras.
Mas que tipo de crianças é que estamos a falar? Que famílias podem usufruir deste espaço? Que enquadramento sociocultural? Se, por exemplo, formos para a Penha de França, uma zona já que com uma geografia totalmente diferente, sentimos uma falta brutal de zonas verdes e os espaços de encontro que existem são espaços como parques infantis. Nestas zonas era muito importante que, por exemplo, ao fim de semana, e até de uma maneira geral, os recreios das escolas estivessem abertos para serem espaços dos quais a comunidade pode usufruir.
Receba a nossa newsletter com as histórias de Lisboa 🙂
A ideia que temos das escolas é um espaço fechado, entre muros ou grades. Isso fecha tanto a escola à comunidade como faz as crianças pensar que, do lado de lá dos muros, lá fora, há um perigo?
Absolutamente. Isto também transmite à criança que cresce dentro deste espaço a ideia de que há alguma coisa de má lá fora, alguma coisa que deve ser protegida. E, portanto, eu ganho medo do espaço público em si, não é? O que se transmite à criança é que a maior parte das suas vivências e das suas experiências infantis têm que acontecer em lugares específicos para as crianças brincarem e não naquela perspetiva que eu dizia há bocado de conhecer o território. E, portanto, é imperativo que as escolas, especialmente as primeiras idades, passem por este processo de transformação.
Mas as famílias não são todas iguais, têm dinâmicas diferentes e, para muitas, falta tempo de qualidade para estar com os filhos. Esta discussão não é elitista?
Eu penso que a melhor forma para colocar essa discussão e torná-la para todos é através da escola. Porque aí estão todos. A escola tem aqui um papel grande. A escola e, naturalmente, as juntas de freguesia, que são o mecanismo mais próximo de contacto.
São um veículo de enorme pressão para que esta discussão possa acontecer. Mas se nós conseguirmos trazer isto para a discussão dentro da escola, então aí conseguimos chegar a um maior número. E até mesmo os pais com vidas e com empregos muito complicados, quando decidem entre atividades a fazer com os filhos, decidem pelo que é melhor para a saúde deles – e as crianças já levaram esse ensinamento e essa experiência para casa.
Mas, claro, a mudança tem que ser maior, temos que ter um tecido empresarial e de prestação de serviços que também esteja disponível para perceber que os pais precisam de ter rotinas de trabalho mais flexíveis para poder ter esta qualidade de vida com as suas crianças. E também precisávamos ter muito maior investimento dos projetos de intervenção local.
Primeiro, era importante mapear, perceber as perspetivas que as crianças e que os adultos têm de cada um destes sítios. E era bom termos um observatório que fizesse esse acompanhamento ao longo do tempo dessas preferências e perceções, como por exemplo acontece no caso da Finlândia em Helsínquia, onde eles têm um conjunto de mecanismos que a autarquia vai promovendo para sondar o as pessoas pensam.
Quando nós olhamos para todos os estudos internacionais, nesta área como noutras, temos sempre o Norte da Europa como exemplo. Noruega e Finlândia, sobretudo. No que toca a criar uma cidade amiga das crianças, o que é que eles fazem que nós poderíamos importar?
O que eles já começaram a fazer e que nós de certa maneira estamos a iniciar é tentar resolver o problema do trânsito. Isso sem sombra de dúvida. E é por isso que a maior parte das cidades europeias – e Paris é um bom exemplo, Barcelona também – estão a passar por essas transformações. E isso nós podemos fazê-lo.
O resto tem que ser pensado à luz das nossas experiências culturais. Eles, por exemplo, são muito mais tolerantes às brincadeiras desafiantes, ao contacto com o espaço exterior. E, na Finlândia ou até no Japão, a esmagadora maioria das crianças já com 7, 8, 9 anos vai a pé para a escola. Nós cá temos isso só na passagem do segundo ciclo. Devíamos começar a trabalhar isto muito antes e é uma questão de começar a repensar o ambiente urbano, as medidas de acalmia de trânsito, o impor de limites e restrições à circulação automóvel.
E atenção que, quando eles começaram a fazê-lo, também havia resistência. O caso de Pontevedra, em Espanha, é um exemplo flagrante – e muito mais próximo do ponto de vista cultural. Ninguém queria o que eles começaram por fazer nos anos 90, mas a verdade é que depois começou-se a perceber o ganho. Mas estamos a trazer a discussão para cá, muitas autarquias têm feito esse esforço e vemos que as pessoas começam a ser um bocadinho mais ativas. Ainda que tenhamos números que nos devam preocupar.
*Texto originalmente publicado a 1 de junho de 2o23
Nascida no Porto, Valongo, em 1995, foi adotada por Lisboa para estagiar no jornal Público. Um ano depois, entrou na redação do Diário de Notícias, onde escreveu sobretudo na área da Educação, na qual encheu o papel e o site de notícias todos os dias. No DN, investigou sobre o antigo Casal Ventoso e valeu-lhe o Prémio Direitos Humanos & Integração da UNESCO, em 2020. Ajudou a fundar a Mensagem de Lisboa, onde é repórter e editora.
✉ catarina.reis@amensagem.pt
O jornalismo que a Mensagem de Lisboa faz une comunidades,
conta histórias que ninguém conta e muda vidas.
Dantes pagava-se com publicidade,
mas isso agora é terreno das grandes plataformas.
Se gosta do que fazemos e acha que é importante,
se quer fazer parte desta comunidade cada vez maior,
apoie-nos com a sua contribuição:
1 Comentário
O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *
document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );
Rua Garrett, 122
1200-273 Lisboa
Categorias
- conexaoautomotiva (2.235)
Post recentes
Sobre nós